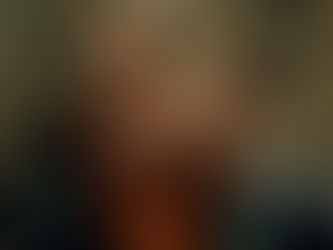Crítica | A Mulher Rei
- Ávila Oliveira

- 16 de dez. de 2022
- 3 min de leitura
Já que é pra ser comercial que seja então decolonial

Divulgação: Sony Pictures
Inspirado no grupo de guerreiras africanas do Reino de Daomé (território do atual país Benin) chamadas “agojie”, ou amazonas de Daomé como eram conhecidas pelo europeus, A Mulher Rei tem como protagonista a General Nanisca (Viola Davis), a líder do exército de elite do Rei Guezô de Daomé (John Boyega), que está sempre protegendo o reino e aconselhado seu rei nas decisões mais estratégicas e delicadas em relação aos reinos vizinhos – que caçam e sequestram uns aos outros para vender seus cativos como escravos para o europeu – e em relação aos europeus – que exploram a mão-de-obra e as matérias-primas africanas.
A palavra de ordem aqui é representatividade. É inconcebível pensar que, há uns 20 anos no mínimo, um grande estúdio norte-americano investiria num filme sobre a grandiosidade de uma mulher negra africana lutando contra um sistema escravagista e degolando europeus. Os constantes debates sobre a relevância do papel feminino na sociedade (e na história) e sobre a importância de estudo da história negra africana galgaram o caminho até a execução de A Mulher Rei. Então apenas o fato de o filme existir já é relevante e histórico.
Os pormenores da história são contados através de Nawi (Thuso Mbedu), uma jovem que se recusa a ter um casamento arranjado pelo pai e acaba virando recruta das agojie, e de outras soldados que compõem o exército de guerreias. Destaque para a personagem Amenza, interpretada com vigor pela expressiva atriz Sheila Atim, que dá suporte emocional e físico para Nanisca. Viola Davis é irretocável e aqui ela emprestou seu corpo sua alma para protagonista da aventura, mas ela não carregou o filme só, as atrizes Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim e até mesmo Adrienne Warren – que tem menos tempo em cena dos que as outras – têm cenas enfáticas tanto nas sequências de ação quanto na distribuição de momentos chave no roteiro. Mas falando em representatividade, pareceu preguiçosa a opção de colocarem dois atores britânicos para interpretar um personagem português e um brasileiro.

Divulgação: Sony Pictures
Mas é válido provocar que aqui a função é mais importante do que a forma. Por mais que “o que está sendo dito” seja novo, seja impositivo e seja revolucionário, a “maneira que está sendo dita” é um tanto conhecida e repetida. E não estou falando puramente da jornada do herói (das heroínas) e da narrativa em 3 atos usadas com facilidade para preencher as lacunas dos fatos históricos e compor o roteiro, mas de escolhas de referências feitas pela diretora Gina Prince-Bythewood. Gina é uma diretora versátil que dedicou quase toda sua filmografia a produções de cinema e televisão focadas em personagens negras e negros. Ela já dirigiu ação, romance, drama, comédia e vemos aqui que ela sabe dosar tudo isso, mas a soma dos fatores faz com que o resultado seja um filme de ação padrão Hollywood da melhor qualidade, com um romance como roteiro secundário, personagens coadjuvantes que roubam a cena e um final glorioso, e isso não é reclamação, se for para ter filmes assim que sejam contando novas histórias e histórias mais relevantes, mas faltou identidade própria para o filme se tornar ainda mais memorável.
De qualquer forma é bom poder dizer com um certo alívio que Hollywood, mesmo que tardiamente, abriu os olhos para a “história que a História não conta” – citando o saudoso samba-enredo mangueirense de Deivid Domênico e companhia. São quase 100 anos da grande indústria de cinema estadunidense dando ênfase (as vezes necessária, as vezes apelativa e as vezes puramente sádica) a história negra como pessoas sofridas e resistentes ao sistema de escravidão que implica até hoje numa sociedade doente e racista. O pré-escravização e o passado glorioso do negro parecem nunca ter interessado estúdios majoritariamente formados por velhos homens brancos e o motivo é retórico. Mas não pense que por isso os negros deixaram de contar suas histórias. Existem, por exemplo, grandes produções da chamada Nollywood (a “Hollywood” da Nigéria) que abordam a história, a cultura e a fantasia africana sob as mais diferentes perspectivas. E por mais que não tenham o primor técnico das produções americanas, esses filmes tem uma textura narrativa e uma estética que não se consegue replicar.
A Mulher Rei se consolida como um filme confiante e emotivo. E mesmo que não fosse tudo isso, apenas pelo fato de ter incomodado a grande parcela incel da sociedade que tem medo de mulher em posição de destaque e acha que o negro protagonista é mimimi, aqui, ou woke, lá, ele pode sair de cena satisfeito com o que realizou.
Nota: 4/5